28 de junho de 2019 · ENTREVISTAS
Gerohannah Barbosa de Souza nasceu em tempos de escassez da terrinha do Sol, Minas Gerais. Trabalhava com sua família na roça e vivia uma vida miseravelmente pobre: pobre de corpo e de dinheiro.
A falta do estudo lhe assolava a mente e, com o incentivo do prato vazio, decide aos 13 anos sair de sua cidade natal e, sozinha, buscar qualquer resquício de melhoria para viver.
Para uma criança que já se reconhecia como homossexual, que vivia na miséria de uma pequena cidade, sem escolarização e projeções de uma vida melhor, não é como se estivesse atrás de um bom sofá e toddynho enquanto a mãe está ocupada.
Gerohannah, que nessa época era chamada de Geraldo, por falta do renascer, desembarca em São Paulo, no que viria a ser a maior favela da capital e segunda maior da América Latina: o complexo do Heliópolis.
“Quando eu cheguei aqui na década de 80, era um menino gay com 13 anos, lidando com grileiros que se apossavam das terras e decidiam por afinidade quem poderia ou não morar ali. ‘Baitola nenhum vai ficar na minha favela’ eles diziam, foi aí que começaram a me perseguir e iniciei meu processo de luta…”
Enquanto falava, mostrava nas mãos os calos que a enxada e a picareta haviam lhe presenteado. Disse com tom ardo que preferia a morte a voltar para Minas Gerais e àquela vida. Sempre amou viver e nunca deixou de lutar para ter sua vida respeitada. Não seria aquele o momento de se deixar levar pela opressão.
A história do movimento pela defesa dos direitos de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais surge no Brasil no período mais conturbado, que já se teve relato, para ser diferente.
DITADURA
Na mesma época em que Gerohannah, ainda Geraldo, sai de Minas e adentra São Paulo, anos de 1970-80, plena ditadura militar, o movimento começa a fazer panfletagem no chamado gueto, bares em que esse tipo de público se sentia minimamente seguro para frequentar.
Nesses espaços, começou a surgir uma pequena chama de luta pelos seus direitos e, com isso, a discussão sobre o preconceito e a extrema invisibilidade que a população, mais para frente identificada como LGBT, sofria começa a vir à tona.
A partir disso, alguns movimentos começaram a se estruturar no território brasileiro. Os avanços nas leis eram próximos de zero, o preconceito gigante, mas essa parcela social estava cada vez mais visível.
Nos anos 80, com o surto da aids, doença que rapidamente foi entregada à responsabilidade dos homossexuais, o preconceito aumenta em escala sem igual.
Eram tratados com fobia social, nojo, praticamente deixando de serem considerados cidadãos do mesmo Brasil que você. A doença, por anos, foi chamada de “câncer gay”: o Globo propagava o medo de gays, lésbicas e simpatizantes, os GLS.
Por serem nomeados como os hospedeiros de uma doença mortífera, muitos movimentos que ainda estavam na época de fortalecimento foram extintos.
Por outro lado, a crise serviu como carvão para a locomotiva em alguns espaços que tentavam ser conquistados. Um exemplo concreto é o próprio governo, que chegou a financiar um movimento liderado por homossexuais que prestavam assistência aos aidéticos. A primeira conquista na lei surgiu em 1985, que a partir de uma campanha nacional criada pelo Grupo Gay da Bahia junto à psicólogos, sociedade civil e também psiquiatras, o Conselho Federal de Medicina retirou “Homossexualismo” da sua lista de doenças, que, anteriormente, era considerado “Desvio de Transtorno Sexual”.
1985, RUA DA MINA, HELIÓPOLIS
Foi rápido o processo de Geraldo perceber como as pessoas se portavam diferente de sua cidade natal. Gays e lésbicas estavam casados com os seus opostos com o propósito de protegerem-se da homofobia (naquela época nem sequer debatida), assim como tentavam respeitar aquilo que a sociedade ali formada esperava deles como indivíduos do todo.
“Puxando assunto, conhecendo aos poucos, percebi que aquilo eram as famílias que faziam, eram casamentos arranjados, primeiro para mascarar seu próprio preconceito e segundo para proteger as crias do preconceito do outro. Era um método de esconder o que o seu filho realmente era!”
Com a ajuda de uma associação que se fortalecia para preservar e fomentar discussões no que diz respeito ao bem-estar, a União das Assossiações dos Moradores do Heliopolis (conhecida pela sigla Unas) auxiliava os que se mudavam para a comunidade em formação.
A favela na época estava crescendo cada dia mais, com famílias que vinham do Nordeste do Brasil e da zona Sul de São Paulo, para construírem sua vida nos arredores.
São Paulo inteira era o Heliópolis. Geraldo não saía dali para nada, e depois de alguns meses sozinho, a família conseguiu vir para a terra da garoa. Os dias pareceram passar mais amenos ao lado da mãe que sempre o ajudou no que podia.
“Minha mãe naquela época, ia pra feira catar. A gente não tinha muito o que comer e ela ia pra catar batata, cheiro verde, um monte de folha e fazia um caldo grosso (…) eu chamava esse pessoal que se escondia da família e fazíamos juntos uma noite da verdade! Eles vinham com a roupa das irmãs, irmãos, era o momento que as pessoas eram elas mesmas e não o que a família quisesse que fossem, aí acabávamos as brincadeiras e todos iam embora. Na manhã seguinte, me viam na rua, não falavam comigo… Eu sempre fui assumido e com o tempo eu fui trabalhando isso em cada um dos que eu sabia que sofria calado…”
Com o passar dos anos, a visibilidade na cidade foi crescente, o movimento GLS tomou forma e estabilizou-se.
A próxima conquista começa a ser organizada em 1997, quando os coletivos começaram a planejar a primeira parada. Hoje, sabemos que a passeata é um dos principais eventos de São Paulo. Aquela comunidade que se iniciou nos guetos, escondida e com medo, ocupou o maior centro comercial do Brasil: a Avenida Paulista.
Apesar dessas conquistas, sabemos que no dia a dia o movimento está longe de atingir o que lhes deveriam ser concedidos de direito.
Alguns dizem que a utopia é o que faz andar para a frente, mas o caminho à nossa frente parece obscuro e turbulento.
Com um presidente no poder que afirma preferir ter um filho morto a um filho “viado”, uma sociedade igualitária onde todas as comunidades possam se expressar com a sua identidade parece estar no fim do arco íris, longe, não em um futuro possível de se traçar. Além de uma luta diária para pagar as contas, devem também lutar para ser quem são em suas vidas privadas. Os LGBTs devem existir em tempos sombrios e resistir em mercados de trabalho exigentes de uma imposição heterossexual.
Vale lembrar que a luta de classes não se separa da luta LGBT: expandir a abrangência da luta significa colocar em prática questões básicas ao conflito de sexualidade. Ser LGBT é viver em um gueto social. Uma divergência da classe que manda e que, em nuances ao longo da história, coloca ou retira essa população também em guetos físicos e econômicos.
O mercado de trabalho é incompatível com o ser individual de cada um. A luta de classes, com sua demanda por libertação e sua base nas massas, tem nos protestos em si um potencial revolucionário.
Ao mesmo tempo, há uma tentativa consciente de reduzir os problemas LGBTs a uma questão de cultura, como algo em que não se relaciona com outras lutas e campos sociais, e limitar os objetivos do movimento à luta por pequenos benefícios que sejam compatíveis com funcionamento regular (ou seja, opressivo) da máquina do capitalismo.
É o que afirma Maria Cecilia, adolescente lésbica de 19 anos. “Ao mesmo tempo que eu consigo andar de mãos dadas com a minha namorada na Avenida Paulista sem ter medo, eu tenho a consciência que se eu andar dois quarteirões para baixo, a realidade é outra. Eu tenho a permissão de ser quem eu sou em bolhas especificas. Isso está muito longe do que o movimento almeja”.
Maria Cecilia também tem consciência que ocupa uma posição social privilegiada. Ela ressalta que, por ser uma menina branca de classe média alta, não chega nem perto de sofrer as dificuldades de outros nichos sociais de dentro do movimento LGBT, como o movimento Trans.
VOLTANDO A HELIÓPOLIS E GEROHANNAH
No Heliópolis não era diferente, as pessoas da comunidade começavam a sair de seus casamentos arranjados, começavam a se libertar do papel que não cabia a eles. Assim, na virada para 1998, Geraldo vai fazer parte do Unas.
“Aqui a gente começa a entender o que é ser GLS, quebrar os estereótipos e aos poucos dar nome aos diferentes gêneros. Chamando os moradores da comunidade pras discussões, o movimento Grito pela Diversidade começa quando vemos a necessidade de um trabalho de base. Os membros da rádio de Heliópolis iam nos encontros do grupo e também disseminavam os assuntos pelos programas. Começamos então a entender a importância de falar, na época as pessoas não falavam da homofobia, não falavam do racismo (…) a gente foi discutindo isso aos poucos.”
A dificuldade de viver na periferia é grande para as pessoas num geral. Para as que se identificam como LGBT é um pouco mais complicado: o preconceito velado em cada ação a ser olhada com calma e desconstruída, a transfobia, a homofobia, a intolerância.
Hoje o movimento da comunidade faz encontros todos os últimos finais de semana de cada mês, sempre abertos. Participam as pessoas que lutam pela causa e as que acreditam na luta de classe.
“A luta de classes aqui no Heliópolis passa por todas as orientações sexuais. Nós somos LGBTs mas também somos parte de uma classe, somos todos pobres, somos todos negros, somos todos periféricos, sabe? Não dá para olhar o movimento e segmentar a luta. Não dá para partir do pressuposto de que cada um tem seus problemas. O problema é o mesmo, e aí temos os recortes, como por exemplo o recorte LGBT, onde se discute também assuntos voltados a esses oprimidos. Mas a questão do desemprego, a questão do desmonte da assistência pública e todo o resto, fere o negro e fere a mulher assim como fere o público LGBT.”
As estatísticas mostram que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Foram assassinadas 167 pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascença no período de setembro de 2017 a outubro de 2018.
Geraldo era um menino. Ele cortava o cabelo como os meninos, ele dançava lambada com as meninas, como os meninos faziam. Mas ele namorava os meninos.
Nos conta que todos sabiam, mas com o caminhar dos anos, sentiu a necessidade de estar em outro corpo, de começar a vestir feminino: calças coloridas, blusinhas cortadas, regatas mais justas, colocou kanekalon no cabelo:
“A transição começou mesmo perto de 2012, mas sabe?, a transição começa, mas ela não para mais, e você escolhe o que quer te matar, temos o ilegal, o legal, o que causa danos a saúde, o que é um pouco melhor.”
Geraldo, hoje renascida Gerohannah, optou inicialmente por colocar o silicone de cereal, mas corria o risco eminente daquilo vazar e escorrer para o coração, morte na certa. Ela conta que não toma mais os hormônios e que tira os pelinhos na gilette, que tem medo da expectativa de vida: a de uma pessoa trans é de apenas 35 anos de idade.
“A gente se submete a essas dores porque quer se sentir inclusa, quer se sentir bem com nosso corpo. Eu digo: me fale quando começou sua transição e eu lhe direi até quando terás vida.”
Gerohannah, de 44 anos, começou sua transição aos 37.
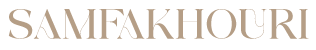

Comentários